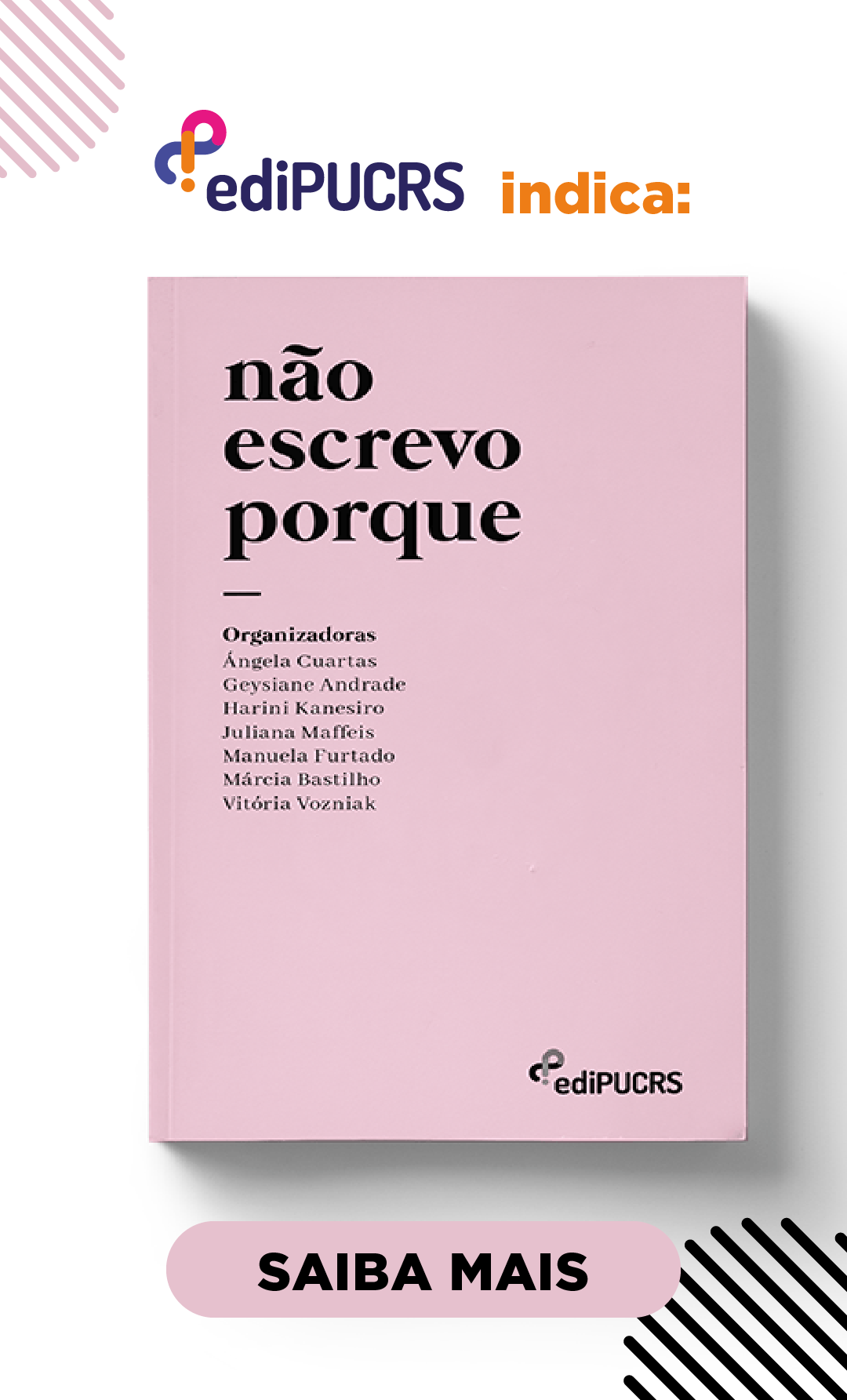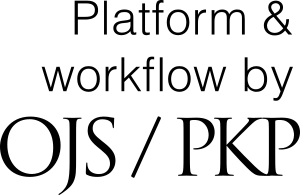Parafrasear: Por quê? Para quê?
DOI:
https://doi.org/10.15448/1984-4301.2016.2.23314Palavras-chave:
Leitura, Paráfrase, Escrita, EnsinoResumo
O presente artigo enfoca a paráfrase enquanto um processo linguístico-cognitivo, fundamentando-se em estudos neurocientíficos (DEHAENE, 2012; IZQUIERDO, 2011; van DIJK, 2010 etc.). Seu objetivo é, através de uma retrospectiva dos estudos já realizados a respeito do tema, como os de Fuchs (1982, 1985) e de outros autores, situar a presente abordagem, destacando a importância da repetição e da paráfrase para a construção do conhecimento. Por fim, sugere que a paráfrase seja reconhecida e valorizada tanto para testar a compreensão leitora quanto para estimular a produção escrita, entre acadêmicos e estudantes dos demais níveis de ensino.
Downloads
Referências
ARIMATÉIA, T. S.; CAMPOS, S. F. A paráfrase como ponto de estagnação na escrita acadêmica. 2011. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). Disponível em: . Acesso em: 20 maio 2014.
BAKTHIN, M. Estética da Criação Verbal. Trad. Maria Ermantina G. Pereira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
DASCAL, M. Interpretação e compreensão. Tradução de Marcia Heloisa Lima da Rocha. São Leopoldo: Unisinos, 2006.
DEHAENE, S. Os neurônios da leitura – como a ciência explica a nossa capacidade de ler. Trad. de Leonor Scliar Cabral. Porto Alegre: Penso, 2012.
DUARTE, P.M. Elementos para o estudo da paráfrase. Revista Letras, Curitiba, n. 59, p. 241-259, jan./jun. 2003.
FUCHS, C. A paráfrase linguística: equivalência, sinonímia ou reformulação? Ed. Unicamp, n. 8, p. 129-134, 1985.
FUCHS, C. La paraphrase. Paris: Presses Universitaires de France, 1982.
GAZZANIGA, M.; IVRY, R. B.; MANGUN, G.R. Cognitive Neuroscience – The Biology of the Mind. 2. ed. New York, London: W. W. Norton & Company, 2002.
ILARI, R.; GERALDI, J. W. Semântica. São Paulo: Ática, 1990.
IZQUIERDO, I. Memória. Porto Alegre: Artes Médicas, 2011.
KINTSCH, W.; VAN DIJK, T. A. Toward a model of text comprehension and production. Psychological Review, v. 85, n. 5, p. 363-394, 1978.
LAKOFF, G. Women, fire, and dangerous things – what categories reveal about the mind. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metáforas da vida cotidiana. Tradução de Mara Sophia Zanotto. São Paulo: Mercado de Letras, 2002.
MARCUSCHI, L. A. Cognição, linguagem e práticas interacionais. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.
MARCUSCHI, L. A. Exercícios de compreensão ou copiação nos manuais de ensino de língua? Em Aberto, Brasília, ano 16, n. 69, jan.-mar. 1996.
PINTO, M. da G. A Prática da Escrita-Composição: um investimento para a vida. Textura, Canoas, ULBRA, v. 16, n. 31. 2014.
PERINI, M.A. Gramática descritiva do português. São Paulo: Ática, 1995.
SAEED, John I. Semantics. Oxford: Blackwell, 1997.
SINHA, Ch. Biology, Culture and the Emergence and Elaboration of Symbolization. In: Saleemi, Anjum P.; Bohn , Ocke-Schwen; Gjedde, Albert (Eds.). In search of a language for the mind-brain: Can the multiple perspectives be unified? Denmark: Aarhus University Press, 2005.
STERNBERG, R. J. Psicologia cognitiva. Porto Alegre: Artmed, 2000.
TOMASELLO, M. Origens culturais da aquisição do conhecimento humano. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
VAN DIJK, T. A. Discurso e produção de conhecimento. Trad. de Orison Bandeira Júnior. In: BRAIT, B.; SOUZA E. SILVA, M. C. (Orgs.). Texto ou discurso? São Paulo: Contexto, 2012.
VAN DIJK, T. A. Cognição: discurso e interação. São Paulo: Contexto, 2010.
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
VAN DIJK, T. A. A formação social da mente – o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Tradução de José C. Neto, Luís S. M. Barreto e Solange C. Afeche. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença